Manuela Marujo
Manuela Marujo, docente na Universidade de Toronto no Departamento de Espanhol e Português entre 1985-2017, é atualmente Professora Associada Emérita dessa universidade. É licenciada pela Universidade Clássica de Lisboa e doutora pela Universidade de Toronto e pela Universidade dos Açores. Lecionou e fez formação de professores de Língua e Cultura Portuguesa em vários países e deu inúmeras palestras pelo mundo.
Manuela Marujo organizou congressos, conferências e publicou nas áreas de educação, ensino de línguas e imigração, particularmente em assuntos relacionados com mulheres. Um de seus temas mais recentes de estudo foi o papel e a influência dos avós imigrantes na vida dos netos. Criou as redes “A Vez e a Voz da Mulher Imigrante Portuguesa” e “A Vez e a Voz dos Avós”.
Durante os mais de trinta anos no Departamento de Espanhol e Português, foi curadora de variadas exposições na Universidade com enfoque na literatura, nas artes e herança cultural. Trabalhou também de perto com a comunidade luso-canadiana em Toronto, fazendo a ponte entre a universidade e a comunidade em geral.
Manuela Marujo publicou, ao longo da sua carreira académica, artigos e livros nas suas áreas de pesquisa. Depois de se aposentar, aceitou colaborar com regularidade no jornal Milénio Stadium onde foram publicadas 100 crónicas de viagens. Nos últimos dois anos, tem colaborado com a Revista Amar, contibuindo mensalmente com um texto que destaca um lugar, uma cidade ou um país que visitou.
A autora confessa ter uma paixão particular por conhecer terras e gentes e incentiva os leitores a descobrir os lugares que recomenda.

Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
Revista Amar: Manuela, conte-nos um pouco de si…
Manuela Marujo: … Portanto, eu identifico-me como alentejana. Sou de uma aldeia do Alentejo, perto de Beja onde fiz o Liceu e quando fui para a Faculdade, tive no início dificuldade em disfarçar o meu sotaque. Tanto que na Faculdade, diziam-me “és alentejana” e eu perguntava como é que sabiam e respondiam que era pela maneira como eu falava e eu nunca tinha percebido que tinha um sotaque diferente das outras pessoas de Lisboa. Fiz um curso de fonética (…) e a pouco e pouco tive que me libertar do meu sotaque. Mas sou alentejana e tenho o espírito do Alentejo e tenho bons amigos ainda do Liceu, com quem me dou. Fiz a Estrada Nacional, há três anos, com um grupo de dez pessoas do meu Liceu. Portanto, tenho aquele regionalismo, que é uma coisa muito portuguesa de se manter, as nossas raízes. Embora, quando fui para Lisboa, para a Faculdade, os meus pais vieram atrás e nunca mais regressámos ao Alentejo. Por conseguinte, já não tenho família chegada no Alentejo mas, sempre que posso, gosto de voltar. Desde que era criança que adoro sair, viajar e lembro-me o que teve muita influência nisso – até escrevi uma história sobre o assunto -, a minha avó materna disse-me uma vez que tinha pena de não ser cigana e eu, dos ciganos, só via aquelas pessoas dos acampamentos e os burros (risos), e só muito mais tarde é que perguntei à minha avó, o porquê de querer ser cigana e ela respondeu “porque eu gostava de conhecer outras terras e os ciganos andam sempre de um lado para o outro”.
RA: Mas nasceu em Beja?
MM: Não, eu nasci em Santa Vitória, que é uma aldeia vizinha de Beja. O meu pai era funcionário público e por acaso foi transferido para uma outra aldeia ao pé de Monchique, Santa Clara-a-Velha, quando eu tinha cinco anos. Na realidade não sou de uma aldeia… sou de duas aldeias (risos). Em Santa Clara-a-Velha, temos muita influência do sotaque da serra algarvia e então, quando eu ia para Beja chamavam-me “serrana” e depois quando ia a Santa Clara diziam-me que eu falava à moda de Beja.
RA: Que importância pode ter o sotaque na vida das pessoas?
MM: Como professora de Línguas, acho que é muito importante a maneira como nós falamos. Somos logo definidos e rotulados. De facto, às vezes o rótulo impede-nos de fazer coisas que gostávamos de fazer. (…) Por exemplo, como todos nós, adultos, que viemos para aqui, eu vim para o Canadá com 36 anos e, embora falasse muito bem Inglês, pois era professora de Inglês de profissão nas Direções Escolares onde fiz muito trabalho de envolvimento dos pais, os diretores diziam-me “You have such a cute accent” e isso dava-me raiva porque aquilo era uma maneira de dizer “você não fala Inglês como eu”.
RA: É lembrar-nos que somos “estrangeiros”…
MM: … é e quando me diziam isso, durante muito tempo eu tive a preocupação de perguntar: “Mas não me diga que você não fala línguas?! É que só as pessoas que falam muitas línguas é que têm sotaque. Você é monolíngue? Desculpe, mas tenho pena de si.” E esta foi a maneira que encontrei de me defender… mas na altura, se pudesse, ainda acrescentava que ser monolíngue traz muitas desvantagens, porque o “mundo” fica muito pequenino, etc.. Um problema que a maioria das pessoas tem é não falar a norma, isto é a “língua padrão”. Acho que isso foi sempre uma coisa que eu notei desde criança, por ser do Alentejo e depois, quando comecei a aprender línguas, e uma das minhas decisões mais importantes da vida foi que eu decidi ser professora de Português como Língua Estrangeira. Embora a minha formação seja em Inglês e Alemão pois eu fiz Filologia Germânica, na Universidade Clássica de Lisboa.
RA: Alemão?
MM: Sim e falava muito bem. Infelizmente, desde que vim para aqui, nunca mais tive “contacto” com a língua… mas ainda consigo ler algumas coisas. Estudei Alemão, fui trabalhar para a Alemanha nas férias, dois verões: em Colónia e Düsseldorf, respetivamente e aprendi a falar um ótimo Alemão.
RA: E voltou à Alemanha?
MM: Depois regressei à Alemanha e arranjei um trabalho como babysitter na casa de uns diplomatas em Bad Godesberg, que era uma cidadezinha como Otava e concorri a uma universidade alemã, a Universidade de Bona. Fui a uma entrevista muito rigorosa, um exame de cultura geral e eu falava de tudo em Alemão naquela altura: política, economia, etc. e fui aceite. Mas, fui aceite no ramo da filosofia e pensei “eu não quero fazer filosofia, quero mais línguas, literatura” e tomei a decisão de ir embora. Contudo, a Alemanha representou uma parte importante da minha vida.
RA: De facto, gosta mesmo de viajar…
MM: Isso realmente deve ter ficado algures na minha sensibilidade de criança. Quando há pouco falámos que, em criança, não entendia porque a minha avó queria ser como os ciganos… mas depois percebi! Os ciganos têm uma língua própria, que é o Romani e andam livres, de terra em terra. Então, acho que fui influenciada por isso, porque quando eu saí da minha terra aos cinco anos, eu lembro de a minha mãe chorar, as amigas a chorar e eu pensei assim, “mas porque é que estão a chorar? É tão bom ir viajar!” e lembro-me dessa viagem numa camioneta de carga, não sei… mas felicíssima! Portanto, quer dizer isso que desde de muito pequena que tenho essa consciência de que ir para outros lugares é aprender outras coisas. Sempre vi “viajar” como parte da educação.

Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
RA: Viajar é sinónimo de aprender?
MM: Viajar é aprender. Viajar é ver outras pessoas, aprender muitas coisas. Logo que entrei para a Faculdade, o meu pai avisou-me “filha, tu escolheste Inglês e Alemão, não poderás ser boa intérprete, tradutora etc. se nunca fores a esses países e falares com as pessoas de lá”. Então, a minha primeira viagem foi para a Inglaterra e depois para a Alemanha, com essa consciência do o que o meu pai me tinha dito antes de falecer. E, isso reforçou de certa maneira aquela minha primeira ideia de viajar. Eu não podia nunca ser boa professora – de Alemão ou de Inglês – se eu não falasse ou tivesse a certeza de que as pessoas me percebiam e eu a elas, ou seja, conviver com pessoas de outros países, não é? Na Inglaterra, quando eu estive em Londres, foi a minha primeira experiência multicultural. O Canadá é o que a Inglaterra era nos anos 70… eu estive lá em 1971. Então, essa coisa de muitos grupos étnicos, muitas cores e muitas línguas foi para mim sempre um fascínio. Lembro-me que na Alemanha, em Bona, na universidade, eu falava com estudantes de todos os países. Tanto que uma vez, um rapaz perguntou-me “Manuela, mas tu falas as línguas todas do mundo? É que todos te compreendem!”, porque eu falava francês aprendido, obrigatoriamente, no liceu; percebia os espanhóis por causa do português; percebia os africanos que tinham sido colonizados pela França, percebia todos os que tinham sido colonizados pelos ingleses e depois tinha o Alemão. Então eu falava com as pessoas da Nigéria, da Hungria, etc… e foi a consciencialização de como era bom ter umas línguas básicas, sabe? Porque as línguas, de facto, abrem depois as portas para a cultura daqueles países todos e isso sempre me motivou nesta carreira, quero dizer – línguas e viagens, portanto saber mais línguas, poder ir e falar com as pessoas era muito importante para mim.
RA: Depois de se formar, qual foi o país que escolheu para iniciar a sua carreira?
MM: O meu primeiro trabalho foi no Lobito, em Angola, em 1972. O meu irmão estava a cumprir serviço militar em Angola e eu pensei que era a minha oportunidade de conhecer África. (…) Em Angola tive uma experiência fantástica como professora e eu não tinha pensado ser professora porque, como a maior parte dos estudantes, também eu achava que os professores eram velhos e chatos. Porém, como era novinha, naquela altura tinha 23 anos, eu era quase da idade de algumas das minhas alunas do liceu e disfarçava, porque andávamos todas de bata. Eles empurravam e diziam palavrões ao pé de mim como se eu fosse uma aluna (risos), eles não reparavam que não o era. Essa experiência no Lobito foi muito positiva e de tal maneira que determinou a minha carreira, porque também percebi outra coisa… ser professora não é sinónimo de não se viajar, pelo contrário. Fui para Angola, porque escolhi ir para lá lecionar e então eu vi que podia conciliar essas duas partes, não é? E foi o que fiz durante o resto da minha vida.
RA: Quantos irmãos é que tem?
MM: Tenho dois irmãos mais novos. Esse meu irmão com quem fui ter a Angola faleceu há dois anos e tenho um irmão quatro anos mais novo que eu.
RA: Casou e tem uma filha…
MM: … sim e estive 17 anos casada com o pai da minha filha. Conheci o meu primeiro marido em Angola e tivemos uma vida em Angola. Depois quando houve a descolonização, porque nós estávamos lá quando foi o 25 de Abril, fomos para Portugal. Em princípio nós iríamos ficar em Angola se não tivesse acontecido o que aconteceu.

Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
RA: Quando regressa a Portugal, continua a lecionar?
MM: Sim. Escolhi, a certa altura, ensinar Português como Língua Estrangeira. Eu tinha tido um convite da Faculdade de Letras para ensinar lá cursos para estrangeiros, portanto, Português – Língua Estrangeira. Gostei muito… era muito interessante e fui recebendo convites para outros lugares.
RA: Algum desses convites foi para fora de Portugal?
MM: Sim, para a Suécia e ensinar Português para estrangeiros. Fui três anos seguidos e comecei a aprender Sueco, mas depois não deu para continuar. A seguir dei uns Cursos de Formação a professores que estavam a ensinar Português na Alemanha e fui várias vezes lá, portanto, meti-me um bocadinho na formação de professores.
RA: Mas foi na Suécia que encontrou outro lado do ensino, certo?
MM: Certo. Quando estive na Suécia, reencontrei uma professora que eu conhecia da minha aldeia e que dava aulas para filhos de emigrantes portugueses e eu achei aquilo muito interessante, que houvesse países como a Suécia em que a professora ia dar aulas a muitas escolas só para atender às necessidades das crianças portuguesas. Ela tinha dois alunos nesta escola, dois alunos naquela e cinco alunos naquela… a professora é que ia às escolas e não eram os alunos que se deslocavam. E eu comecei a estudar um bocadinho essas políticas de ensino de línguas, porque isso interessava-me imenso. Um dia fui aos Serviços do Ensino Básico e Secundário no Estrangeiro, Ministério da Educação, e disse que gostaria de trabalhar lá (risos). Já não me lembra como consegui a entrevista, mas a Responsável perguntou-me, “Mas porque é que quer vir para aqui? Qual é a sua experiência?”, eu respondi “nenhuma, mas tenho viajado e tenho visto que os professores precisam de muita ajuda e de formação. Acho que tenho alguma experiência e gostava de vir trabalhar para aqui”. (…) O meu primeiro trabalho lá foi fazer uma revista para crianças imigrantes chamada CONTACTO. Claro, aquilo exigia bastante dinheiro para se distribuir para os países todos de emigração e a revista durou, para aí uns três números. Mas, uma das funções desses Serviços, era mandar formadores para reciclar os professores. E foi para fazer isso que eu vim ao Canadá da primeira vez.
RA: E em que ano?
MM: O ano letivo de 1980/81.
RA: Veio visitar as escolas de Toronto?
MM: Sim, mas não só. Em Toronto fui à escola do First, à da “Dona Helena” e conhecer as escolas públicas e católicas onde davam português, língua de herança. Contudo também fui a Montreal, a Chatham, a Windsor, etc.. Nessa altura, nos anos 70 e fins dos anos 80, havia muitas escolas portuguesas aqui. E, fiquei muito contente de ver que o Canadá, isto no tempo do primeiro-ministro Pierre Trudeau, havia uma política de apoio às línguas absolutamente incrível! Os professores eram bem pagos, havia boas condições, havia muita ajuda de todo o género e eu pensei “este país é um exemplo para o mundo”, porque eu já conhecia a Europa – já tinha ido à Suécia, Alemanha, à Inglaterra e não havia tanta compreensão. E quando vim, dessa vez, pensei que o Canadá poderia ser um país onde eu pudesse vir fazer pesquisa, porque isto aqui podia ser um exemplo para a Europa e para outros países do mundo. Então fiquei interessada porque eu queria fazer mestrado e doutoramento e naquela altura em Portugal ainda não havia na minha área, não é? Então, dois anos depois, tive a oportunidade de voltar, porque tinha aqui uma pessoa de família e eu pensei “eu vou ao Canadá ver bem como aquilo funciona” (risos) e tive a sorte de chegar na primeira Semana Cultural da Casa do Alentejo. Eles tinham convidado os escritores Agustina Bessa-Luís e Manuel da Fonseca e achei isso muito interessante. Também quis conhecer a universidade… eu sou assim! (risos) Fui à universidade “bater à porta” do Departamento de Espanhol e Português e perguntei quem é que ensinava Português. Havia uma Leitora do Instituto Camões, Teresa, a filha do General Soares Carneiro. Então, fiz perguntas à Teresa Carneiro e quanto tempo mais é que ela ainda ia ficar. Ela respondeu mais um ano, que era quando o contrato dela acabava e eu disse-lhe que sendo assim, eu iria concorrer nessa altura para aquela posição. A moça nesse mesmo ano mandou-me um anúncio que tinha saído aqui, em Toronto, para um lugar de professora no departamento, não era de Leitora, era de professora da universidade, e disse “olha, como estavas interessada em vir para o Canadá, não queres concorrer a isto?”. Fui ver o anúncio e aquilo era para “canadianos”, não era para estrangeiros, contudo mandei o meu curriculum na mesma, porque não? Nesse verão, a Diretora Associada da universidade de Toronto foi a Portugal entrevistar-me.
RA: Foi de propósito a Portugal entrevistar a Manuela?!
MM: Foi! No Verão de 1983. Ela foi lá e entrevistou-me, disse-me que estavam à procura de uma pessoa com o meu perfil. Pronto, começámos a tratar dos papéis, mas a Imigração recusou, aquele emprego era para canadianos e não para estrangeiros e só se, durante um ano, não aparecesse nenhum canadiano é que eu poderia ter alguma chance, que apareceu apenas dois anos mais tarde. Entretanto, tinha aceite outro emprego ótimo em Londres, como Coordenadora do Ensino de Português, mas que acabei por detestar. Era no Consulado, e o Cônsul da altura, a única coisa que queria era abrir salas de aula para agradar aos imigrantes. Então mandou-me, uma vez, para Ascot – a terra das célebres corridas de cavalos – onde havia uns senhores que queriam abrir uma escola com 30 crianças: uma de quatro anos, três de cinco, sete de dez, etc.. Eu cheguei ao Consulado e disse ao senhor Cônsul “Desculpe, eu não posso mandar para lá um professor dar aulas a estas crianças, porque eu não sei dar aulas a crianças de 4,5,7, 10 e de 11 anos. O senhor sabe dar?”… ele olhou para mim e disse “Ah, mas os pais querem uma escola”… “Eles querem, mas não podem ter. Pedagogicamente, isto não faz qualquer sentido!”, respondi. Então, comecei a ter alguns problemas de comunicação, porque o senhor que estava lá, não tinha a mínima noção do que era dar aulas e depois também vi que, como Coordenadora de Ensino, o que eu ia fazer para lá era trabalho administrativo, sabe? E eu gosto é de dar aulas. Fiz o meu trabalho durante três meses: fiz os horários dos professores e várias coisas, mas no fim do verão, voltei para Portugal e depois aguardei que a Imigração daqui me deixasse vir. Mas não foi fácil entrar aqui. A emigração deu-me um contrato temporário e ao fim de um ano fui avaliada. Durante 36 anos que ensinei na universidade, as pessoas na comunidade portuguesa em geral pensavam que eu era Leitora e que trabalhava para o governo português.

Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
RA: Quando vem em 1985, vem sozinha ou com a família?
MM: Primeiro vim com a minha filha e o meu marido chegou mais tarde, quando foi possível.
RA: Que idade tinha a menina quando veio e adaptou-se bem?
MM: A minha filha tinha nessa altura sete anos. Ela já tinha estado comigo em Londres, portanto, já tinha aprendido um bocadinho de inglês, o que facilitou as coisas. Alias, aceitei aquele trabalho em Inglaterra a pensar nela.
RA: E como foi ser professora na Universidade de Toronto?
MM: Adorei. Tinha uma grande liberdade… quer dizer, é o que nos dá o ensino. É uma liberdade muito grande de criar os meus próprios cursos, ensinar a matéria que eu queria porque, claro, como por exemplo, no ensinar línguas temos que introduzir literatura e eu escolhia os escritores e os artistas que eu gostava. E nunca ninguém foi uma única vez ver se eu estava a dar uma aula bem ou mal. Quer dizer, tive durante 36 anos a liberdade de criar cursos de cultura, ensinar várias coisas que podia ensinar em Português ou Inglês e até a nível do horário, eu escolhia os dias em que ia dar aulas. Portanto, depois, não foi fácil deixar um trabalho assim e por isso é que em vez de me aposentar mais cedo, continuei…
RA: Como foi essa fase?
MM: Uma coisa com que me sempre me preocupei, foi fazer a ponte entre a academia e a comunidade. Sempre tive muito esta consciência de que estava num lugar muito privilegiado, então dei o passo e abri sempre as portas. Cada vez que eu tinha um escritor, um filme, uma peça de teatro ou um músico, a comunidade era convidada e fazia questão de abrir as portas, para que as pessoas pudessem verem que a universidade não é um lugar “estranho”. É um lugar onde temos os filhos, graças a Deus, e onde muitos dos nossos jovens já têm o seu papel, etc.. Então, essa ponte que eu tentei fazer entre a comunidade e a universidade foi uma das minhas alegrias também. Ver que as pessoas iam aos congressos ou ver um filme, claro, não iam em multidões, mas iam. Tentei desmistificar o medo de não pertencer ao que havia à volta da universidade.
RA: Então, quando é que passou pela Universidade dos Açores?
MM: É assim. Eu fui aos Açores e estabeleci um protocolo com uma colega de lá com quem eu também me dou muito bem, que é a professora Rosa Simas. A Rosa fez o doutoramento em Berkeley e, tal como eu, valoriza muito o ensino das línguas nos programas de intercâmbio. Eu tive a oportunidade de a conhecer, através do Reitor da Universidade dos Açores, que achou que a Rosa e eu poderíamos trabalhar juntas. Depois fui muitas vezes aos Açores, convidada pela Direção Regional das Comunidades, porque eu também dava um curso dirigido à cultura e tudo o que era herança cultural açoriana. Ajudei a Rosa num congresso que ela fez sobre a mulher imigrante, em 2001. Depois, ela convidou-me para ser professora lá no verão para alunos que vinham dos Estados Unidos – depois, também, consegui levar alunos do Canadá – para lhes ensinar o Português como língua estrangeira. A partir daí estabelecemos várias parcerias.
RA: E onde é que fez o doutoramento em Portugal?
MM: Quando me doutorei aqui, eu gostava de ter uma equivalência em Portugal, não é? Então, como tinha uma boa relação com a Universidade dos Açores, candidatei o meu doutoramento e eles aceitaram. Portanto, sou doutorada pela Universidade de Toronto e a dos Açores, também por causa desse trabalho que fiz durante vários anos e em que os colegas têm que avaliar o nosso trabalho, não só prático, mas também intelectual.
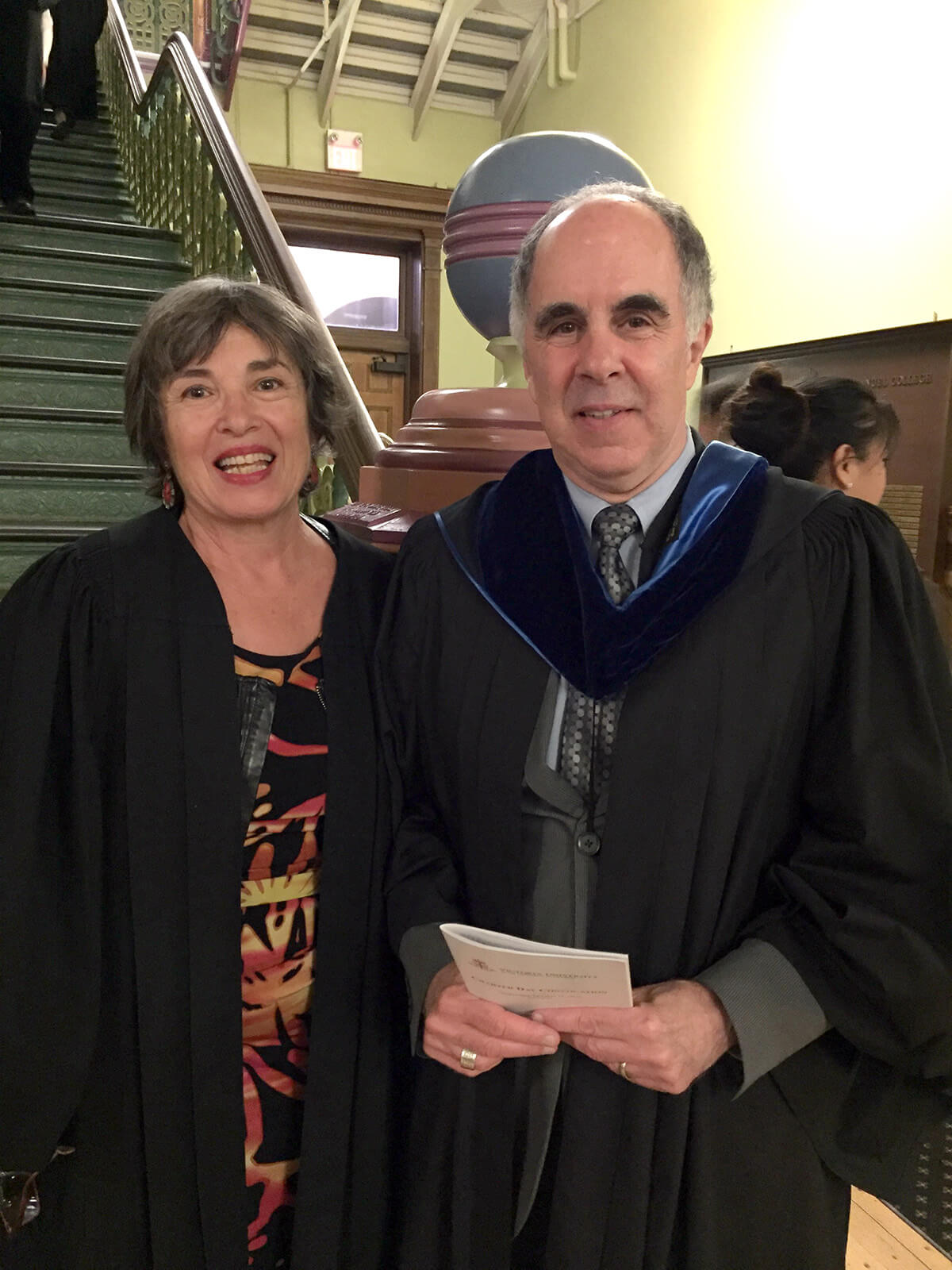
Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
RA: Entretanto, de repente, também descobriu a escrita…
MM: Não foi de repente. Quando nós professores, por exemplo, fazemos um congresso há uma expectativa de que os trabalhos que entraram nos congressos sejam publicados, então esses são os meus primeiros trabalhos escritos, não é? O meu primeiro livro, que é bilingue, para crianças ´A Primeira Vez Que Vi Neve` surgiu para preencher um vazio… quando ia às escolas uma das coisas que as professoras daqui, da Inglaterra e da Alemanha mais necessitavam, era de livros que estimulassem as crianças a ler.
RA: Foi fácil publicá-lo?
MM: Publicar é geralmente sempre difícil. Aqui fiz uma candidatura ao Ministério da Educação, mas não consegui. Depois o livro acabou por ser publicado em Portugal e fui fazer muitas leituras aqui nas escolas e foi engraçado que algumas das professoras tinham sido minhas alunas. E os outros livros que se seguiram, foi a continuação de atividades que a pessoa faz. Por exemplo, fiz um congresso sobre os avós e as pessoas esperavam que saísse um livro; depois fiz um congresso para as mulheres, as pessoas esperam que saísse um livro. Agora é mais o e-book e têm que ir para a internet, mas há uns anos se não estivesse escrito, parece que nem tinha existido, compreende? Dentro deste meio académico também há muitas pessoas que precisam de ter os trabalhos publicados, não é? Portanto, era também mais para ir ao encontro das colegas que tinham vindo aos congressos, aqueles que eu tenho organizado sobre as mulheres emigrantes e sobre os avós. Contudo, quando eu participo em congressos, tenho a mesma expectativa. Portanto, nós ou escrevemos um livro ou compilamos um livro, uma antologia de textos das outras pessoas. Isso é natural no meio académico.
RA: Antes de falarmos do seu livro mais recente. Como surge a oportunidade de colaborar com o jornal Milénio Stadium?
MM: Foi só depois de me reformar que me disponibilizei, pois durante todos os anos que estive na universidade, tive muitos convites para escrever para os jornais. Mas é assim, eu não queria preencher um lugar onde havia pessoas mais indicadas para o fazer. Eu tirei um cursinho de jornalismo, mas quer dizer, foi mais uma gracinha (risos) e não achava que podia corresponder a todos. Então, para evitar conflitos não escrevia para nenhum, apenas mandava as notícias sobre as coisas que tinham acontecido na universidade já todas preparadinhas. Mas depois de me aposentar, o Manuel Da Costa convidou-me a escrever para o Milénio e pensei que era uma boa ideia partilhar com as pessoas as minhas impressões de viagens duma forma leve. E foi isso. Dar oportunidade aos leitores de conhecerem lugares que eu gostei muito, lugares onde talvez um dia possam ir e apreciar. Quando cheguei à 100ª crónica comecei a sentir-me mal de falar de viagens, quando as pessoas estavam todas fechadas em casa, porque ninguém podia sair por causa da pandemia.
RA: Mas volta a escrever as crónicas, só que para a Revista Amar…
MM: … sim, mas porque o Carlos Monteiro me pediu autorização para usar algumas crónicas antigas do Milénio na revista, porque algumas são de facto intemporais. Mas, eu não concordei e preferi escrever coisas novas. Como era e é uma vez por mês e também é um meio diferente, posso ter sempre uma coisa nova, não é? Para mim é muito simples refletir sobre um passeio ou um lugar que conheci e dar a conhecer às outras pessoas. Também tenho tido muitos incentivos de amigos que leram as crónicas que disseram “eu já passei ali e não vi isso!” ou “no Algarve também há barrocal?” e outras coisas assim… cometários de pessoas que até viajam, mas que às vezes não reparam em certos pormenores.

Créditos © Manuela Marujo

Créditos © Manuela Marujo
RA: Quando ouviu falar pela primeira vez do projeto Magellan, a Casa de Magalhães, o que é que pensou sobre isso? E que benefícios acha que vai trazer para a comunidade e não só?
MM: Antes de falar da Magellan, tenho que dizer que já tinha tido contacto direto com um grupo de amigas, a Ilda Januário, a Teresa Roque, a Irene Pereira, e a Maria Matias que trabalharam durante vários anos para conseguir juntar-se aos ativistas chineses que abriram um Lar em Mississauga e a ideia era ter uma parte chinesa e a outra parte seria portuguesa. O grupo reuniu-se durante três ou quatro anos. Eu não fazia parte, mas sei que fizeram muito trabalho, porém, infelizmente, não tiveram qualquer sucesso. Então, quando eu ouvi falar sobre este projeto, pensei “bem, é um grupo bastante diferente no aspeto de visibilidade, não é? O Manuel DaCosta, o Charles Sousa, a Ana Bailão entre outras pessoas. Pode ser que agora isto se consiga, porque o outro grupo, infelizmente, encontrou muitos obstáculos”… principalmente a nível financeiro. (…) Então quando ouvi falar da Magellan pensei “pode ser que seja agora!”, pois como deve saber, não é a primeira vez que se tenta fazer, mas vi este projeto com mais esperança e otimismo, dado o tipo de perfil das pessoas que estavam envolvidas.
RA: E que benefícios acha que vai trazer para a comunidade?
MM: O meu primeiro trabalho voluntário em 1987 – onde também fiz parte da direção – foi na Santa Casa de São Cristóvão… hoje chama-se West Neighbourhood House. Conheci muitos idosos e apercebi-me da solidão, já naquela altura … E lembro-me que me apercebi que quando a pessoa chega a certa idade, de facto há uma tristeza de não se poder expressar na sua língua. Durante anos fui a vários lares e quando sabiam que eu falava português, tipo agarravam-me pela roupa e não me deixavam sair, eu tive momentos de uma comoção incrível, porque as pessoas que via eram japoneses, italianos, portugueses, etc. e cada uma a falar na sua língua. Ou seja, falavam, mas não comunicavam! (…) Vi esta realidade desde os meus primeiros anos aqui e como sempre me interessei por idosos, até porque deixei a minha mãe em Portugal… sei da necessidade incrível que há de as pessoas sentirem uma familiaridade e não só com a língua, mas com tantas outras coisas que depois nós fazemos da nossa maneira “portuguesa”. Então, eu sei muito bem dos problemas de isolamento das pessoas. Acho que é mesmo necessário encontrar uma solução. Claro que as soluções são muito difíceis de encontrar, porque sabemos que vivemos num país multicultural. Há muitas razões para as pessoas se juntarem, mas os números que nós, portugueses, representamos e os anos que já cá estamos, não vejo como não seja possível transformar este projeto numa realidade. A minha geração está cada vez mais próxima dessa idade em que gostamos de ser compreendidos e necessitamos de ser compreendidos, não é? E 70 anos depois, muitos dos pioneiros já foram, mas aqueles que vieram nos anos 60, que são muitos, que vieram nos anos 70, que são muitos, nem todos vão para Portugal passar o resto dos seus dias, embora seja o sonho. Porém, a realidade é esta… as pessoas estão aqui, é aqui que vão passar os últimos anos da sua vida! E têm todo o direito e, acho que, as gerações mais novas têm que se aperceber disso, que têm que ajudar essas pessoas ao menos a terem esse benefício – saber que são compreendidos e compreender os outros. E eu vejo isso como uma coisa tão natural que nem sei porque é que as pessoas às vezes questionam. Não compreendo a questão.
RA: E se calhar foi por isso que a Manuela juntou o útil ao agradável. Escrever um livro, ´Canadá – Olhares e Percursos de uma Portuguesa Curiosa` e doar a receita à Magellan. Ou seja, quem quiser ficar com o livro faz um donativo, certo? Como é que surgiu a ideia?
MM: Há, mais ou menos, um ano, quando vi que havia o comité de angariação de fundos para a Magallen, fiz o meu donativo, como qualquer pessoa tem a obrigação de fazer. Mas, pensei que gostava de fazer um pouquinho mais, dentro daquilo que eu sei fazer. Então, perguntei ao Manuel DaCosta, porque está envolvido com o projeto, o que ele achava de transformar as minhas crónicas sobre o Canadá numa publicação, até porque acho que é muito triste também nós passarmos aqui a nossa vida e não conhecermos nem a cidade, nem a província, nem o país. Acho triste, tristíssimo e acho que perdemos oportunidades fantásticas, não é? E sugeri fazer uma seleção das crónicas com muitas fotografias, neste caso, todas sobre o Canadá, para dar a conhecer às pessoas que ainda aqui estão e que gostam de ler. Se não sabem ler muito bem, podem olhar as imagens. E o Manuel, claro, generosamente disse que sim e que não se importava de disponibilizar o pessoal dele para me ajudar. E há muito, muito trabalho implícito nisto. Preparei tudo e entreguei à MDC Media Group para transformarem numa publicação. O Manuel é muito generoso, é claro que ele sabe que não é muita coisa, mas é mais uma coisinha que se pode fazer para angariar fundos, e sem a ajuda dele não teria sido possível. Eu fiz o meu trabalho, a Stella Jürgen adicionou uma parte muito interessante de arte porque não é apenas um livro de textos e fotografias, é também um livro de ilustrações criativas e a Fabiana Azevedo ficou muito entusiasmada e também foi muito generosa com o seu tempo, fez toda a parte gráfica. Também gostei muito desta parte, ou seja, vê-las tão interessadas no livro e fazerem de tudo com tanto gosto e com tanta rapidez, não é? Portanto, acabou por ser um prazer e acho que o resultado está muito bonito. Eu acompanhei o processo um pouco à distância pois entretanto viajei. Estava ansiosa para ver o livro, ficou muito lindo e agora só espero que as pessoas também achem uma ideia positiva, não é? Quer dizer, eu não ganho nada com isso, a não ser a satisfação de ver o livro divulgado. E talvez as pessoas digam “Olhe, gostei muito de ir àquele lugar através da leitura.”
RA: Para finalizar, que mensagem é que gostaria de deixar à nossa comunidade?
MM: Olhe, eu acho que a vida não tem graça nenhuma se a pessoa não tiver todos os dias uma coisa nova para pensar, para procurar, para reconhecer. Eu penso que o livro ´Canadá – Olhares e Percursos de uma Portuguesa Curiosa` pode dar essa oportunidade à pessoa que o tiver na mão e se quiser, hoje, ver uma coisa nova de Toronto, pode não ir lá, mas se já tiver conhecimento que existe, já aprendeu qualquer coisa. Talvez na próxima vez que passe naquela rua veja com “outros olhos”. Portanto, para mim a vida é uma aprendizagem constante e sinto-me feliz com isso. Acho que a felicidade vem de aprender coisas novas e penso que para cada pessoa, não há idade limite para se aprender. Podemos aprender todos os dias qualquer coisa diferente. Chamo a isso viver bem, ser feliz.






Redes Sociais - Comentários